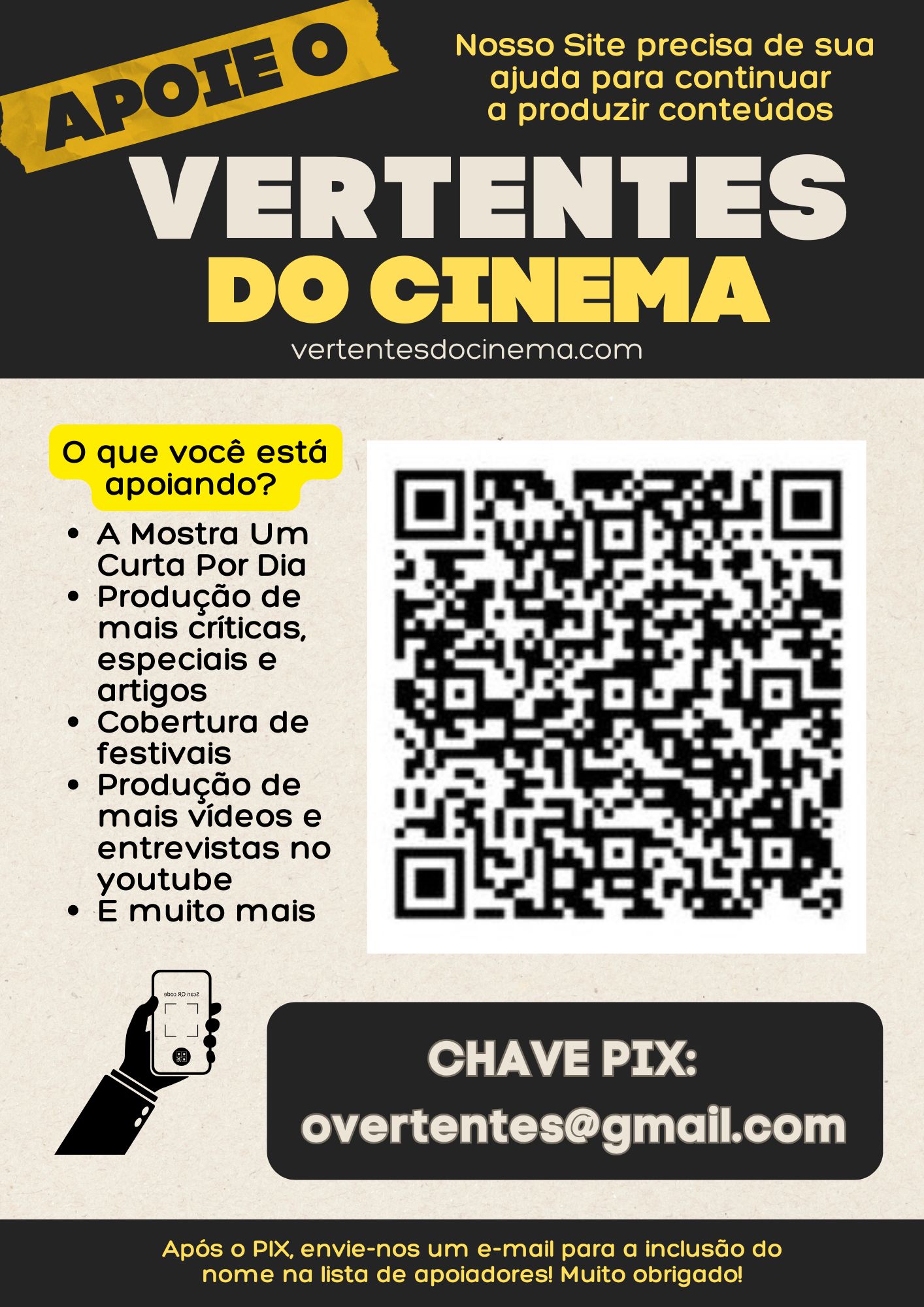Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá
Versões de uma história: tudo sobre meu pai
Por Fabricio Duque
Assistido durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2024
A força do Cinema Indígena está quando o olhar é voltado para dentro, e principalmente quando é realizado para e por seus locais. Essa intimidade caseira (de conforto cotidiano) mitiga o tom de estrangeirismo e de didatismo, fugindo completamente de um que de obra etnográfica e de estudo antropológico. Em “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”, documentário exibido aqui na mostra competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2024, os cineastas Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna preferiram seguir pelo caminho da construção narrativa livre, de fluxo contínuo, em que suas cenas são estendidas, muitas das vezes pela câmera estática, para assim prolongar nossa experiência do sentir, expandindo nossa percepção sobre seus comportamentos, seus meios de vida, seus rituais, suas crenças, seus medos, suas alegrias, seus anseios, suas esperanças, suas ancestralidades, suas defesas de seus territórios e suas histórias que recebemos em estrutura filmada. Isso, dentro dessa forma mais amadora de criação (mais de cinema direto), faz com que nós sejamos convidados a estar presente em suas conversas e nas procuras de algum ponto de sinal para o celular.
Sim, logo no início de “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”, nós somos imersos num coloquialismo mais metafísico do conceito de família, de se estar junto, de se apresentar um a um (os bastidores vivos e em movimento de um álbum aparentado – à princípio para seu pai, mas também como um desdobramento de eternizar a aparição e impedir de uma vez por todas o desaparecimento), como se assim estivéssemos convidados para compartilhar suas vidas em aldeia, a Escola Floresta. O filme é sobre uma busca. De uma filha, uma das diretoras aqui, Sueli Maxakali, por seu pai, Luis Kaiowá, de quem foi separada durante a ditadura militar no Brasil. Seu pai foi “escalado” para a guarda contra a repressão (não ganhava nada e vivia o medo de ser preso). A temática é semelhante ao documentário, não-indígena, “Nada Sobre Meu Pai”, de Susanna Lira, e/ou à ficção “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, mas este se apresenta diferente pelo resultado final. Se lá a jornada continua ou foi finalizada com dor, em “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá” a busca ganha ares de festa, de logística que inclui viagem de ônibus, de muita escuta e que “eles também estão aqui”.
Ao prolongar esse tempo narrativa, de não editar o instante que se filma, “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá” também não se interrompe o pensamento, que se une ao falar. Este é um filme palavra. A chegada do pai à aldeia representa a segunda parte do longa-metragem. Que deixa ainda mais livre seu tempo narrativo. Nas danças, nas escutas, na tradução crítica de que o “Tupã” (uma cidade de São Paulo – que também significa um deus da mitologia Tupi-Guarani, considerado “o criador do mundo”) “me dividiu em dois” (diz) e nas derivações críticas do “mundo dos soldados”. Se consultarmos o relatório público da Comissão Nacional da Verdade, concluído em 2014, nos surpreenderemos que o número de mortos de yanomamis chega aos milhares. Pois é, “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá” conta apenas um caso (e de final feliz), solucionado no todo dos povos originários.
Mas antes de traçar linhas analíticas sobre a forma e narrativa escolhida em “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”, é preciso dar um passo atrás e fazer um estudo mais cognitivo de seus comportamentos, que se traduzem ao público como mais ingênuos, mais tímidos e que internalizam um tempo único, entre o silêncio estendido e a fala mais explicativa. Também é preciso talvez que esta crítica acrescente informações coletadas na coletiva de imprensa, de que essa filha foi separada de seu pai (um “andarilho apanhador de retomadas” e um conhecido “rezador”) aos seis meses e que foi o “filme que proporcionou o reencontro” (palavras de Luiz Joaquim).
Dessa forma, ”Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá” é um filme de detalhes, de objetos particulares, de superstições sagradas. É um filme que estimula nos não indígenas a necessidade de se ter a família por perto. Sueli Maxakali finaliza dizendo que “foi muito bom encontrar meu pai” e que “ele tinha muitas coisas para me ensinar – rezas e remédios naturais”. Sim, este é um relato de sucesso de uma alma indígena que finalmente encontra a que procura e assim se acalentar, preencher o vazio existencial com a completude da composição familiar, entre novas memórias, novas distâncias para tirar foto, respeitar a verdade, bolsas de embaúba e “cantos do gavião”. “Se só tem uma versão, é ficção”, diz-se na coletiva, e que “o filme tem que ter várias versões para virar história”, referência ao curta-metragem “Confluências”, de Dácia Ibiapina. É tudo sobre o que está fora e dentro do quadro, em planos que preenchem e que expandem o território. “A memória fica na cabeça, mas hoje no moderno guardamos também no cinema”, finaliza Sueli.